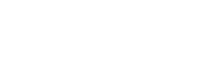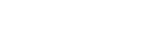Bch. Heloisa Nogueira dos Santos
Universidade Católica de Campinas, Brasil
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8838-8828
[email protected]
Fecha de Recepción: 11 de abril de 2020 – Fecha Revisión: 22 de abril de 2020
Fecha de Aceptación: 12 de octubre de 2020 – Fecha de Publicación: 01 de enero de 2021
Resumo
O objetivo do presente artigo é defender a aplicabilidade do princípio da função social ao direito à
comunicação, para tanto a metodologia aplicada foi revisão literária de autores que sustentam a
extensão do referido princípio a outras hipóteses que não as previstas na Constituição Federal e no
Código Civil Brasileiro. Através do estudo realizado chegou-se à conclusão de que há
compatibilidade entre os institutos, sendo uma possibilidade de efetivação do direito à comunicação
em hipóteses concretas de violação.
Palavras-Chave
Função social – Direito à comunicação – Efetividade
Resumen
El propósito de este artículo es defender la aplicabilidad del principio de la función social al derecho
a la comunicación. Para este fin, la metodología aplicada fue una revisión literaria de autores que
apoyan la extensión de este principio a otras hipótesis distintas a las previstas en la Constitución
Federal y el Código Civil. Brasileño A través del estudio se concluyó que existe una compatibilidad
entre los institutos, siendo una posibilidad de realización del derecho a la comunicación en hipótesis
concretas de violación.
Palabras Claves
Función social – Derecho a la comunicación – Efectividad
Para Citar este Artículo:
Santos, Heloisa Nogueira dos. A função social como princípio do direito à comunicação. Revista
Inclusiones Vol: 8 num Especial (2021): 182-189.
Licencia Creative Commons Atributtion Nom-Comercial 3.0 Unported
(CC BY-NC 3.0)
Licencia Internacional
Introdução
A discussão acerca do direito à comunicação e as formas de trazer efetividade a sua aplicação é urgente e necessária, tendo em vista que em uma era em que novas informações são bombardeadas sob nós a todo segundo, o direito à informação deixa de ser tão somente o antes previsto no artigo dezenove da Carta de Direitos Humanos (1948)1, e passa a ser mais abrangente, passando a ser denominado “direito à comunicação”.
Diferentemente de outros, o direito à comunicação passou a ser mais observado, bem como violado, na contemporaneidade. Apesar de não haver previsão expressa do referido direito em nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988 em seus artigos de maneira discreta faz alusão a um direito que já estava sendo colocado em pauta pelo Relatório MacBride publicado pela UNESCO em 1983.
O direito à comunicação sempre existiu estando intrinsecamente ligado ao direito de liberdade de expressão e pensamento, contudo, as nuances que estão sendo debatidas não são mais as mesmas que as do início do século.
Com a facilidade de propagação de informações, principalmente notícias, a necessidade de estabelecer critérios para que possa ser considerado que o direito à comunicação está sendo efetivado tornou-se mais difícil, por que não basta ter acesso a informação, a informação precisa dialogar com todos os setores da população de maneira uníssona e, o debate precisa ser algo possível.
Tendo em vista que a UNESCO a ONU e as atuais governanças mundiais já entendem o direito à comunicação como direito fundamental, é necessário delinear a sua adequação ao ordenamento brasileiro através de princípios já existentes em nossa Constituição Federal.
O princípio da função social vem diretamente ao encontro da eficácia que busca-se atribuir a este “novo” direito fundamental, pois, ao elencar a necessidade do interesse público se sobrepor ao privado em questões práticas como na propriedade e nos contratos, o seu objetivo é atingir a coletividade de maneira difusa assim como o direito à comunicação, que de mesma forma, quando violado produz consequências reais mas não individualizadas. Desta forma, apesar, de não haver previsão expressa em nosso ordenamento acerca da aplicação do princípio da função social sob o direito à comunicação, é evidente a compatibilidade existente entre si.
O princípio da função social no ordenamento jurídico brasileiro encontra-se cristalizado nos artigos 5º, XXIII da Constituição Federal2 e 421 do Código Civil3 que prelecionam a aplicabilidade do referido princípio aos contratos e a propriedade privada.
1 ONU, “Declaração Universal Dos Direitos Humanos” (Paris: ONU, 1948). http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-dos-Direitos- Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html. (15.09.2019)
2 Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Assembleia Nacional Constituinte, 10.05.1988. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
(08.10.2019)
3 Brasil, Código Civil, Brasília: Senado Federal, 2002.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> (28.10.2019)
Salomão ao interpretar a Constituição de Weimar afirma que o princípio da função social da maneira que conhecemos possui raiz no direito alemão, ao utilizar-se da máxima “a propriedade obriga”. O autor ainda esclarece que a evolução da teoria constitucional necessitou adequar-se as mudanças sociais que ocorreram, principalmente no que tange a relevância da empresa como agente econômico, estendendo-se assim o princípio da função social as atividades empresárias
Na Lei 11.101/054 em seu artigo 47 encontra-se expresso a aplicabilidade do princípio da função social a atividade empresária, sendo esse um dos principais fundamentos para que a sociedade arque com o custo negativo e temporário da empresa em recuperação judicial.
A extensão do princípio da função social a outras Leis e a outros institutos que não a propriedade e a livre contratação pode ser observado sistematicamente nas Lei em vigência, novamente, Salomão perfeitamente exemplifica, como se vê:
“Os exemplos se multiplicam. Não é este o local adequado para descrevê- los em detalhes, mas apenas na medida suficiente para demonstrar a ligação com a idéia central da função social. Assim é que no direito antitruste a idéia de repressão ao abuso de preços (art. 21 da Lei 8.884/1994) transformou-se em verdadeira obrigação positiva do monopolista de praticar preços competitivos. No direito do consumidor a verdadeira revolução causada pela nova disciplina de responsabilidade pelos vícios do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) significa nada mais nada menos que estabelecer garantia legal adicional à garantia contratual em benefício do consumidor. Finalmente, no direito ambiental, a idéia capelettiana de recuperação dos prejuízos causados ainda que não haja dano sofrido (art. 225, § 2.º, da CF (LGL\1988\3)) é corolário da concepção da função social como deveres positivos, e não mera obrigação de abstenção. Na prática, levou ao estabelecimento de diversas obrigações pontuais para as empresas, como obrigação de tratamento de resíduos sólidos, reciclagem de pilhas e pneumáticos etc.).”5
Essa abrangência da aplicabilidade do princípio da função social é vista como um instrumento regulador das relações estabelecidas entre pessoas físicas e jurídicas em qualquer tipo de relação, pois, impõe um equilíbrio para o desenvolvimento de outros institutos que por vezes não conseguem ter a objetividade necessária para a resolução de conflitos reais.
O caráter público da função social é evidente, como se depreende do disposto no artigo já citado da Constituição Federal. Nesse sentido Rachel Sztajn explica que a função social “é a contribuição que um fenômeno provoca em um sistema do qual faz parte sendo que nessa definição, não há obrigação ou responsabilidade de alguém; limitando-se a relacionar o evento e seus resultados”6.
Tal entendimento é ponto crucial para se entender a compatibilidade do princípio da função social ao direito à comunicação, na medida que o interesse coletivo e o interesse
4 Brasil, Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial (Brasília: Senado Federal, 2005). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm (28.10.2019)
5 Calixto Filho Salomão, “Função social do contrato: Primeiras Anotações”, Revista dos Tribunais
Vol: 823 (2004): 67-86
6 Rachel Sztajin, “Função Social”, Revista de Direito Empresarial Vol: 7 (2015): 423-427.
privado estão em constante conflito quando se fala da proteção, promoção e garantia do referido direito fundamental. As ramificações que surgem desta discussão englobam custos e consequências para toda a sociedade, fazendo com que o princípio da função social seja perfeitamente aplicável nos casos concretos que desrespeitem ao direito à comunicação.
Evolução do direito à informação com as novas formas de comunicação
Conforme explorado acima o princípio da função social contém compatibilidade com o direto fundamental de se comunicar, uma vez que ambos possuem um interesse coletivo a ser tutelado.
Como se sabe, o direito à comunicação não se encontra positivado na Constituição Federal de 1988, sendo expresso em seu texto tão somente com relação a proteção ao direito expressar-se livremente e obter acesso à informação:
A atual Constituição brasileira apesar de ser conhecida como a constituição garantidora, haja vista o rol de garantias fundamentais que possui em seu texto, o qual esta também baseado e submetido a Declaração Universal de Direitos Humanos, ao se referir ao direito à comunicação o fez de maneira discreta e atrelado ao direito de informação.
Isso se deu, pois, a discussão acerca da necessidade de proteção e garantia do direito à comunicação ainda estava despontando no cenário internacional, sendo que as nuances que hoje são muito evidentes, no momento da promulgação da Constituição de 1988 ainda não o era, sendo que a proteção ao direito à informação parecia ser suficientemente abrangente.
Importante ressaltar aqui o cenário internacional nesse período no que tange ao direito à informação e à comunicação, pois assim, entenderemos melhor como se deu a evolução do direito à informação dentro do ordenamento brasileiro.Um dos documentos internacionais mais importantes, se não o mais, que versou sobre o direito à comunicação e o direito à informação pela primeira vez foi o relatório MacBride realizado por especialistas da matéria e, divulgado em 1980 pela UNESCO8.O relatório expunha real situação de desigualdade na produção e divulgação das informações, verificando que o Ocidente produzia grande parte das informações e das matérias de grande relevância. O controle ocidental sobre as informações em um nível mundial era e é inegável. O relatório propunha medidas que ao longo do tempo mudasse tal cenário, claro, que para que isso acontecesse era necessário o comprometimento das grandes potências mundiais.
Esse padrão de desproporcionalidade informacional em nível mundial se repete no âmbito brasileiro também. Em estudo realizado por Camilo Vannuchi, através de documentos publicados pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados ao citar Lima e Rabelo, ficou verificado que há um monopólio nas formas de divulgação, principalmente no que tange as notícias veiculadas na televisão, como se vê:
A dificuldade de regulamentar e promover o direito à informação é constante e apesar de ter sido constatada mundialmente no século 80, as violações continuam sendo perpetradas em quase qualquer cenário que se observe.
O advento da internet potencializou tudo isso, sendo que a princípio poderia se pensar que com a possibilidade de receber e enviar informações com tanta facilidade que o problema de desequilíbrio ou monopólio de informações estariam resolvidos.
Infelizmente não, no caso brasileiro muitas questões básicas não foram resolvidas ou devidamente desenvolvidas, sendo que a internet ao proporcionar uma função catalisadora em toda a discussão, também fez gerar novas situações de violação ao direito fundamental de informação e comunicação.
A revista do Advogado10 em sua edição de nº 143, publicada em agosto de 2019 em homenagem aos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, realizou matéria que apontava a atual situação do Senado com Projetos de Leis que visam resolver o problema das “Fake News”
As propostas variam desde punições penais a pecuniárias, sendo que todas parecem um band-aid para um problema estrutural que só poderá ser superado através de comprometimento e devida fiscalização, indo muito além do que o ato de publicação de notícias inverídicas na rede de computadores.
Logo, o cenário caótico que temos hoje demonstra que o direito à informação não conseguiu concretizar-se nos moldes propostos tanto pela Constituição Federal como pelas diretrizes da Unesco. A criação da internet fez com que tudo se movesse mais rápido, trazendo soluções para alguns problemas no que tange o acesso à informação, contudo, trouxe outros problemas que “empilharam” junto as outras questões colocadas, tais como, o monopólio informacional nas redes de televisão no Brasil, dificultando assim a proteção ao direito à comunicação.
Direito a comunicação como direito fundamental
O direito à comunicação, como se vê, surgiu a princípio como um desdobramento do direito à informação. Sendo que a sua aparição em documento oficial internacional se deu somente em 1980 com a publicação do relatório McBride pela Unesco.
Vannuchi ao explicar a evolução do direito à comunicação através da insuficiência do direito à informação para tutelar as garantias necessárias, dispõe que:
“Já o direito à comunicação resultou da percepção de que direito à informação e liberdade de expressão eram conceitos insuficientes para contemplar as garantias necessárias ao exercício da comunicação, ora visto como ato essencial para a dignidade humana e para o pleno desenvolvimento dos indivíduos. Trata-se de um conceito distinto daqueles, embora os tangencie. As leis de transparência, por exemplo, buscam garantir o direito à informação, mas não chegam a interferir na cadeia de produção da comunicação social. ”11
Tal observação apontada pelo Autor encontra-se em compatibilidade com o disposto no Relatório MacBride que ao propor a existência do direito à comunicação como direito autônomo do direito à informação sustenta a necessidade do ser humano não só em receber informações, mas também de dialogar com elas, sendo que esta necessidade irá varias de todas as formas dependendo do interlocutor e do receptor nesta relação.
Dessa maneira, o direito à comunicação encontra-se calcado e conectado diretamente a garantia do ser humano em se expressar livremente como prevê o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Sendo um direito fundamental para a promoção da dignidade da pessoa humana a capacidade do ser humano em viver numa sociedade que garanta o seu desenvolvimento crítico e intelectual na medida que obtém acesso à informações e com elas dialoga.
Compatibilidade entre o princípio da função social e o direito à comunicação
O princípio da função social como já visto, se trata de um instrumento que pode ser utilizado como forma de regulamentar situações nas quais a necessidade de equilíbrio entre o interesse privado frente ao coletivo ou a comunidade se faça necessário.
Como já visto o direito à comunicação se trata de direito fundamental assim como o direito de liberdade de expressão e informação. A sua proteção e promoção é extremamente necessária na atual sociedade em que vivemos, a existência da internet e suas consequências em nossa forma de se relacionar e de viver demonstra a enorme importância da tutela do direito à comunicação.
Como perfeitamente colocado no Relatório MacBride a sensível diferença entre o ato de informar e o ato de comunica-se reside na possibilidade de interação, de resposta por parte do receptor. Essa concepção é perfeitamente aplicável as situações de violação do direito à comunicação atualmente.
11 Camilo Vannuchi, “O direito à comunicação… 9-10.
A necessidade das pessoas em estarem conectadas é um direito fundamental, sendo que sem instrumentos adequados para a solução de conflitos ou situações violadoras, simplesmente perpetua tal cenário fazendo com que a solução pareça cada vez mais distante.
Assim, considerando que a Constituição Federal brasileira possui muitas ferramentas com o propósito de garantir e proteger violações de Direitos Humanos, nada mais compatível do que utilizar-se deles para adequação do ordenamento vigente com a realidade enfrentada pela sociedade.
Nessa toada, o que se pretende com a aplicação do princípio da função social como premissa do direito à comunicação é de cunho prático, no que tange a solução de conflitos, sendo que a compatibilidade entre os institutos reside no caráter público de ambos. É inegável que o direito à comunicação sempre surgirá no âmbito social, fazendo com que a regulamentação nas hipóteses de violação do direito sejam práticas e efetivas.
A criação de uma lei que prescreve uma situação específica que engloba o direito à comunicação não é capaz de solucionar os problemas enfrentados pela sociedade que passa muito de seu tempo conectado a redes e servidores que o tempo todo se mostram como potenciais agentes violadores do direito à comunicação.
Mais do que nunca a necessidade de proteger o direito fundamental à comunicação urge dentro da sociedade que vivemos, a propagação de notícias falsas cresce mais a cada dia, a necessidade de buscar-se as fontes e com elas dialogar nunca foi tão essencial quanto hoje. A pluralidade de agentes transmitindo e recebendo informações nunca foi tão grande quanto nos dias atuais, não ter um instrumento principiologico que permita a análise dos conflitos através de uma solução efetiva é mais um obstáculo para a garantia e a proteção dos direitos fundamentais.
Desse modo, em razão de todo o exposto, é possível concluir pela compatibilidade entre o princípio da função social no que concerne a busca de efetividade ao direito à comunicação nos moldes atuais, ou seja, na internet, revistas, televisão e, principalmente nas redes sociais.
Conclusão
Sendo que para a promoção, garantia e proteção do direito à informação e o direito à comunicação é necessário primeiramente visualizar o atual cenário que se tem no Brasil, que se vê rondado de questões não resolvidas no que concerne a proteção desse direito fundamental, pois, conforme exposto a existência de monopólios informacionais dentro do cenário brasileiro, dificulta muito a resolução concreta de problemas, tais como, a propagação de notícias inverídicas uma missão quase impossível.
Assim, a proposta que se faz é a aplicação do princípio da função social como forma de garantir a efetividade ao direito à comunicação. A utilização dos instrumentos já existentes no ordenamento jurídico de forma compatível é uma forma de facilitar a aplicação da lei de forma coerente, trazendo mais segurança ao Estado Democrático de Direito nas relações estabelecidas entre os sujeitos.